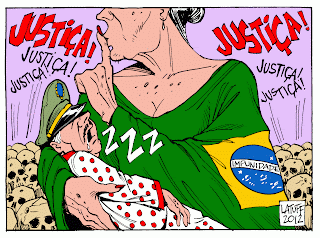A vida segue sua rotina quotidiana no microcosmo retratado
em “O Som ao redor”, premiado filme brasileiro rodado inteiramente no Recife.
Relacionamentos começam, relutantes, ressentidos de feridas recentes ainda
abertas. Relacionamentos continuam, sexualmente mornos mas amarrados por laços
de sangue, amor e uma boa dose de comodismo. Indivíduos outrora ricos e
poderosos seguem ricos, embora já não mais tão poderosos, aparentemente.
Aparentemente.
As aparências enganam. O latido do cão do vizinho incomoda.
A máquina de lavar alivia. O traficante disfarçado de entregador de água
mineral também. A marcação surda do bate-estaca que anuncia o início da
construção de mais um espigão na selva de concreto parece nos alertar,
solenemente, que algo muito ruim está para acontecer. Os fantasmas estão à
espreita. Os personagens parecem saber disso, mesmo que inconscientemente. Até
mesmo as crianças, que têm pesadelos nos quais as ameaças da vida real invadem os
muros dos condomínios. E Irandhir Santos está lá, encarnado no proprietário de
uma empresa de segurança informal que se insere no meio daqueles assustados
seres urbanos que supostamente precisam de seus serviços, mesmo que não saibam
disso. Porque o inimigo não dorme. O mesmo não se pode dizer daqueles membros
de castas inferiores que são devidamente pagos para se tornar guardiões da
tranqüilidade alheia. Dormem no serviço e ainda por cima entregam a Veja fora
do plástico. Um absurdo.
Alguma coisa está para acontecer. E acontece. Ou não.
O Som ao redor
(2012), de Kleber Mendonça Filho
Excelente.
Era Uma Vez Eu,
Verônica (2012), de Marcelo Gomes – Espécie de versão intimista de “O Som
ao redor” – as duas produções têm diversas características em comum, ao ponto
de parecerem dividir o mesmo cenário. É como se bem ali ao lado da rua onde
acontecem os eventos descritos na consagrada obra de Kleber Mendonça se
desenrolasse o drama da vida da Doutora Verônica, batalhadora representante da
classe média em ascensão encarnada na pele da sensacional Hermila Guedes.
Paciente de si mesma, ela não consegue entender sua própria insatisfação diante
de um futuro promissor e acaba tendo que resistir à tentação de sucumbir aos
percalços da vida, aqui representados pela doença do pai, com o qual tem uma
belíssima relação, o desinteresse por relacionamentos duradouros (“não me ame
tanto”, diz Karina Buhr, que também aparece no filme, em uma de suas canções) e
a tragédia humana presente no mar de sofrimento igualmente sem explicação ao qual
é exposta todos os dias em seu trabalho como psiquiatra de uma instituição
pública.
Inadequação e fuga. Sexo como válvula de escape. Carnaval.
Aceitação. Reflexão.
Recife falando pro mundo. Ainda.
Muito bom.
 |
| Silvio Tendler no lançamento do filme |
Tancredo, a travessia
(2011), de Silvio Tendler – Pode ser encarado como uma continuação de “Os
Anos JK” e “Jango”, também cometidos pelo célebre Silvio Tendler, tido por
muitos como o melhor documentarista brasileiro vivo. Conta a trajetória de
Tancredo Neves, o conciliador, para quem “não há mineiro radical. Se for
radical, não é mineiro, mesmo que tenha nascido em Minas Gerais”. Vai de
seu papel ao lado de Vargas à sua liderança na condução pacífica e negociada da
transição da ditadura à democracia no meio dos anos 1980, passando pelos principais
acontecimentos políticos do Brasil no período, nos quais foi, sempre, um dos
protagonistas. Chegou a ser, inclusive, primeiro-ministro, no breve período em
que o Brasil se tornou parlamentarista unicamente para acalmar os generais
quanto à posse do então vice-presidente João Goulart, numa manobra
aparentemente bem sucedida que só serviu para adiar, mais uma vez, o que
parecia inevitável: o golpe militar de 1964 e o mergulho do país nas trevas do
obscurantismo.
 |
| Funeral de Tancredo Neves |
Citando Paulo Marcio Vaz numa crítica que fez para o Jornal
do Brasil, “o filme aborda também, e com mais clareza do que tudo o que já foi
feito à respeito, a polêmica em torno da doença que matou o então presidente
eleito, e jogou água na fervura da esperança de todo um povo, forçando a posse
de José Sarney, ex-aliado da ditadura e dissidente do PDS.
Em depoimento ao filme, o próprio Sarney admite que, ao
renunciar à presidência do então partido governista, quando, provavelmente, já
percebia que a ditadura começava a naufragar, achou que sua carreira política
havia terminado. Também com maestria, Silvio Tendler soube retratar toda a fase
de criação do Partido da Frente Liberal (PFL), que reuniu os dissidentes do PDS
para apoiar Tancredo e, quem sabe, continuar pegando carona no poder. Mal sabiam
que, por uma triste obra do destino, não só pegaria carona, como reassumiriam o
volante.
Sobre a diverticulite que resultou na morte de Tancredo, o
documentário praticamente incrimina os médicos que atenderam o presidente
eleito em Brasília, sem ouvir a versão de qualquer um deles. Nesse aspecto, a
participação de Aécio Neves é fundamental. Hoje Senador pelo PSDB, o neto de
Tancredo foi quem presenciou dois momentos decisivos para o fim da história:
quando o avô, prestes a tomar posse, passa mal durante um jantar em família, e
quando, já operado no hospital em Brasília, durante uma caminhada com o neto no
quarto, sente que algo estava errado, e decreta: “Estourou tudo”. Era o início
do fim.
Tancredo, a travessia, talvez peque por não ouvir o outro
lado da história. Mas, certamente conta muito bem o lado bom.”
Excelente.
Muda Brasil (1985),
de Oswaldo Caldeira – Vi por acaso, no Canal Brasil, este emocionante
documentário totalmente filmado no calor do momento, durante a campanha de
Tancredo Neves à presidência da república por via indireta, no chamado “Colégio
eleitoral”, e programado para ser lançado na época de sua posse. O lançamento
aconteceu. A posso não, como sabemos todos.
Mostra cenas que eu nunca havia visto ou que já não lembrava
mais, como a da convenção do PDS, o então partido da ditadura, sucessor da
ARENA, na qual Paulo Maluf se consagrou candidato pela situação. Em
conseqüência, o partido “se parte”, gerando a Frente Liberal, embrião do PFL –
hoje DEM. Aureliano Chaves, o vice-presidente, é um de seus líderes, e é
constrangedor ver seu isolamento durante a parada militar de 7 de setembro
daquele ano (1984), quando mal é cumprimentado pelo presidente Figueiredo e
pelos Ministros das Forças Armadas, que literalmente lhes dão as costas.
Assistimos também ao oportunismo do então governador da
Bahia, Antonio Carlos Magalhães, servo fiel dos milicos presidentes, que
aproveita o racha no partido do governo para abandonar a barca furada do regime
em decadência e subir na nau da “Nova República”, aos berros dos impropérios
contra seus antigos aliados que lhe eram tão característicos. E à controversa
atitude do PT, tão distante de seu pragmatismo atual, no governo. O partido
decidiu marcar posição e se abster da votação indireta, o que gera um bate-boca
flagrado pelas câmeras envolvendo José Genoino, hoje réu condenado no processo
do “mensalão” – na verdade um processo político teleguiado pela mídia e
conduzido de forma, no mínimo, questionável. Embora não se possa questionar o
Supremo, como tanto gosta de apregoar o Ministro Joaquim Barbosa – que adora
questionar seus pares, sempre de forma incisiva e, muitas vezes, desrespeitosa.
Um grande documento histórico que merecia muito ser
resgatado e exposto às atuais gerações entorpecidas pelo excesso de informações
vazias e mais interessadas no novo “hype” idiota gerado pela internet, como o
“Gangnan style” ou os “Harlen Shakers” da vida.
Muito bom.
 |
| Oliver Stone & Hugo Chávez |
Ao Sul da Fronteira
(2009), de Oliver Stone – Remando contra a maré da opinião pública de seu
país, vítima de uma verdadeira lavagem cerebral midiática quotidiana, o diretor
Oliver Stone decidiu retratar, de forma apaixonada e abertamente favorável, os
novos regimes de esquerda da América do Sul. E começa o filme justamente
mostrando um pouco do lixo que é despejado todos os dias nos olhos e ouvidos do
povo dos Estados Unidos, exibindo um trecho de um programa de debates onde uma
das participantes confunde cacau com cocaína.
Na Venezuela, adere ao “culto à personalidade” de Hugo Chávez,
carismático líder autointitulado “bolivariano”, seja lá o que isso queira
dizer. Para o povo, como bem demonstram as imagens, não importa: o que importa
é que sua vida, hoje, está melhor do que antes, quando uma casta aristocrática
encastelada no poder monopolizava para si os dividendos da comercialização do
petróleo, principal (ou quase única) fonte de renda do país. Por isso Chávez é
e seguirá sendo, por um bom tempo, adorado. Mesmo depois de morto. E ele adorava
isto, como também demonstram as imagens.
De lá parte para a Argentina, onde entrevista a presidente
Cristina Kirchner e seu fiel escudeiro e líder informal, o já falecido Néstor
Kirchner – que por “coincidência”, vejam só, era também seu marido! Ela explica
para as câmeras o processo através do qual a Argentina se recuperou da maior
crise de sua história simplesmente se recusando a seguir a cartilha neoliberal
ditada pelo FMI. E por fim vai a Fernando Lugo, hoje deposto, no Paraguai,
Rafael Correa, que acabou de se reeleger, no Equador, e Lula da Silva, no
Brasil-sil-sil.
Não é um filme perfeito. A abordagem é um tanto quanto
primária e deslumbrada, mas serve como bom contraponto propagandístico à
ferrenha e incessante sanha golpista e imperialista dos ianques e de seus
aliados mundo afora.
Bom.
Anna dos 6 aos 18
(1994), de Nikita Mikhalkov – Tenho uma fascinação pela Russia que é
encarada como excentricidade pelas pessoas com quem convivo. Não as culpo.
Afinal, trata-se de uma nação distante e, para nós, exótica, que se equilibra
culturalmente entre o ocidente e o oriente, já que seu território se estende do
leste da Europa à Àsia. Só eu mesmo, portanto, para se interessar por um
documentário que retrata, basicamente, os últimos anos da extinta União
Soviética. Com direito a imagens de paradas militares e funerais de seus chefes
de estado.
 |
| Nikita Mikhalkov & Nadia, a outra filha |
Nikita Mikhalkov, irmão do grande cineasta Andrei
Konchalovsky e filho de Sergey Mikhalkov, um poeta celebrado, escritor de
livros infantis e compositor das letras das duas versões do Hino Nacional da
União Soviética e do atual Hino da Federação Russa, é um diretor de cinema
consagrado, autor de “O Sol Enganador”, ganhador do Oscar de melhor filme
estrangeiro de 1995. Aqui ele revela o filme que fez a partir da idéia de fazer
à sua filha, Anna, todos os anos, durante 12 anos, as mesmas perguntas para, a
partir de suas respostas, traçar um cenário que lhe permita elaborar uma
análise, a meu ver, ligeiramente equivocada, dos destinos de seu país. Tenta
explicar, por exemplo, o colapso do império soviético a partir da ausência de
Deus! Para tanto insere de forma emocional imagens que, para mim, são apenas
retratos do fanatismo e da ignorância, como a que mostra peregrinos se
penitenciando num terreno onde antes havia uma igreja ortodoxa, destruída pelos
comunistas. Não que eu seja a favor da destruição de igrejas pelos comunistas,
muito pelo contrário: além de ser uma violência, pura e simples, é
contraproducente para a “causa”. Tanto que, assim que caiu o regime soviético,
a Igreja Ortodoxa retomou seu papel de protagonista no cenário político russo
com força total, e hoje é um importante suporte para as ambições do líder
Vladimir Putin – de quem Mikhalkov é um ardoroso defensor, diga-se de passagem.
Em todo caso, é um grande documento de uma era, com imagens
raras de se ver por aqui, no ocidente. Por pura falta de interesse, muito
provavelmente.
Mas eu me interesso. Um dia ainda vou à Rússia, não canso de
repetir.
Bom.
End of the
Century: The Story of the Ramones (2003), de Jim Fields - Depois
de ler a sensacional autobiografia de Johnny Ramone não resisti e revi, como
complemento à leitura, este verdadeiro clássico dos documentários musicais.
Retrata de maneira brilhante e dinâmica a carreira de quatro perturbados e
disfuncionais novaiorquinos que criaram, “sem querer querendo”, uma nova e
poderosa expressão musical e cultural: o punk rock.
Johnny não concordaria com a definição de perturbado para si
mesmo, mas ele era um punk de direita, o que é, a meu ver, definitivamente
bizarro.
Imperdível.
Celebration Day
(2012), de Dick Carruthers – De todas as pisadas na bola do Cinemark em Aracaju, nenhuma foi maior do que a
sequencia de falhas a que fomos expostos durante a exibição de “Celebration
Day”, filme que registra a já célebre(sic) reunião do Led Zeppelin para um show
beneficente em dezembro de 2007.
A imagem, em si, estava perfeita, mas o som falhou
miseravelmente, a ponto de provocar uma verdadeira rebelião entre os
expectadores, que mexeram a bunda de suas cadeiras (algo raro) para reivindicar
seus direitos junto à gerencia. A maioria, como eu, recebeu um pedido de
desculpas, uma cortesia para assistir à uma das sessões 3D em cartaz e um nome
na lista para a nova exibição que aconteceria dali a alguns dias.
Voltei, claro. Imagina se eu iria perder de ver o Led
Zeppelin no cinema! Oportunidade única, tenho certeza. Som meia boca, mas pelo
menos dava pra ouvir. O filme? Excelente! Uma banda ainda afiadíssima capturada
em dinâmicas e belíssimas imagens de alta definição. Me impressionou,
especialmente, a boa forma vocal de Robert Plant, porque vocalistas são,
geralmente, os mais castigados pela passagem do tempo. Que o digam Ian Gillan e
Ozzy Osbourne, as vozes à frente dos outros dois vértices da Santíssima
Trindade do rock pesado, o Deep Purple e o Black Sabbath.
Que mais posso declarar? Vejamos: Jimmy Page é Deus! Robert
Plant é A voz. John Paul Jones é um mago! E Jason Bonhan “segura a onda”
– o que não é pouco. Não mesmo.
Excelente.
O Segredo de seus
olhos (2009), de Juan José Campanella – Drama argentino com pano de fundo
político cuja ação se passa, em grande parte, durante o governo de Isabel Perón
e das ações da "Triple A" (Aliança Anticomunista Argentina), grupo de
repressão do Estado que recrutou gente da pior espécie, entre oficiais de
polícia exonerados por delitos, civis com fichas criminais e matadores de
aluguel. Tem um desfecho chocante e surpreendente, semelhante ao de algumas
películas recentes de Pedro Almodóvar, como “A pele que habito”. A atuação do
onipresente Ricardo Darín é, mais uma vez, impecável, e o filme foi um tremendo
sucesso: na sua sexta semana de exibição já era a produção nacional de maior
arrecadação na Argentina e hoje é considerado o mais visto dos últimos 35 anos
no país. Para coroar seu triunfo, faturou o Oscar de melhor filme estrangeiro.
Bom.
Medianeras: Buenos
Aires da Era do Amor Virtual (2011), de Gustavo Taretto – Um verdadeiro
exercício de estilo, um registro inequívoco da sofisticação visual e narrativa
à qual chegou o cinema argentino. Conta a história de personagens solitários
habitantes de uma Buenos Aires tomada pelo caos urbano, embora ainda possuidora
de um charme particular e especial. Aos poucos, suas vidas vão se cruzando e a
magia do amor, que está sempre à espreita e é (quase) sempre lindo, pode voltar
a acontecer, a qualquer momento.
O diretor Gustavo Taretto explica que quis retratar uma
solidão que não é dramática, mas "uma solidão a que já estamos
acostumados. De todos os dias. Solidão urbana. A solidão que sentimos quando
estamos rodeados de desconhecidos".
Muito bom
Django Livre (2012),
de Quentin Tarantino – Até que demorou para Tarantino finalmente dirigir um
“western spaghetti”, subgênero que sempre namorou, especialmente em seus dois
últimos filmes, “Kill Bill vol.2” e “Bastardos Inglórios”. Talvez por isso
mesmo seja sua obra mais “pura” em termos de narrativa, muito embora fuja,
ainda assim, do lugar comum. Ou não: os faroestes italianos eram igualmente
dados a licenças poéticas em relação aos seus pares clássicos norteamericanos
...
Pra começo de conversa, o filme não se passa nos velho
oeste, mas no sul escravocrata – com passagens pelo norte gelado. Porque o
diretor resolveu aproveitar o gancho para denunciar - a seu modo, evidentemente
- os horrores da escravidão, que funcionava a pleno vapor naquela época. E é
uma senhora denúncia, que me perdoe Spike Lee, sempre chato quando o assunto é
racismo. Poucas vezes as agruras do povo negro foram mostradas com tanta
brutalidade nas telas do cinema. E pouquíssimas vezes em filmes de “Far West”,
onde a “sub raça” a ser subjugada era, geralmente, a dos nativos americanos.
Então temos Django, um negro liberto montado à cavalo, para
o espanto de todos por onde passa, acompanhado de um caçador de recompensas
alemão disfarçado de dentista. Trata-se de Christoph Waltz, praticamente
repetindo seu papel de Bastardos Inglórios numa interpretação um tanto quanto
exagerada, “barroca”, mas ainda assim certeira – não por acaso, com ela,
repetiu a façanha e abocanhou mais um Oscar de ator coadjuvante. E temos
Brunhilda, a escrava negra que fala alemão, a ser resgatada das mãos do
terrível Calvin Candie, magnificamente interpretado por Leonardo DiCaprio. Mas
não sem antes passar pelos olhos e ouvidos atentos de Stephen, “o negro da
casa”, mais racista que o pior dos racistas, igualmente interpretado de forma
magistral – repito e sublinho: magistral! – por Samuel L. Jackson. Com
tudo isso, e mais a infalível dinâmica dos diálogos longos e espertos
intercalados por explosões de violência, acrescidos de doses cavalares de humor
negro e suspense, as 2 horas e 45 minutos de projeção passam voando! Na verdade
o filme valeria a pena só pela incrivelmente hilária cena em que justiceiros
caipiras encapuzados discutem a relevância daquele acessório ridículo que
posteriormente seria adotado pela Ku Klux Klan. Nunca o racismo foi
ridicularizado de forma tão certeira em uma película hollywoodiana. Spike Lee,
faz favor, vai procurar o que fazer. Termina aí seu filme sobre o Brasil.
Vale ressaltar que assisti LEGENDADO e numa excelente
projeção, como deve ser. Nem deveria ser preciso que este detalhe aparentemente
banal fosse mencionado, mas o Cinemark teve o disparate de colocar o filme em
cartaz apenas em sessões dubladas nas duas primeiras semanas de exibição aqui em Aracaju. Desconfio
que tenham voltado atrás devido à forte pressão exercita pela crítica
especializada, nas resenhas da imprensa local, e pelo público em geral, nas
redes sociais. Eu, por exemplo, cheguei a ser proibido temporariamente de fazer
postagens pelo facebook, de tanto que pentelhei nas páginas oficiais das
empresas produtora e exibidora.
Excelente.
Lincoln (2012), de
Steven Spilberg – Para além da brilhante e mereciamente premiada
interpretação de Daniel Day Lewis, o novo filme de Spilberg nos mostra como
sempre foram, são e, pelo andar da carruagem, sempre serão os bastidores da
política numa “democracia”, onde tudo tem que ser negociado. Nem sempre de
forma limpa e aberta. Ou quase nunca, ouso afirmar. Para conseguir ver aprovada
a mais do que justa lei da abolição da escravatura, o maior dos presidentes
norteamericanos teve que chafurdar na lama da corrupção, recorrendo a todo tipo
de artifício espúrio, da chantagem ao suborno, passando por malabarismos
retóricos até chegar finalmente à intimidação, pura e simples. Perfeito para
quem se interessa em compreender os meandros deste terreno pantanoso que é a
política, de cujos efeitos nunca estamos isentos, já que é ela que nos conduz a
todos, como indivíduos ou como nação.

Perfeito mesmo para os que, como eu, não
conseguem entender muito bem a dinâmica da política interna dos Estados Unidos
– afinal Lincoln, o abolicionista, o homem que derrotou o atraso do sul
escravocrata, era republicano, ou seja, do mesmo partido que mais tarde geraria
Nixon, que “pediu para sair” depois de ter sido flagrado “com a boca na
botija”, ou melhor, “com o ouvido na escuta”, no escândalo de Watergate; George
W. Bush, o maior terrorista de estado do mundo moderno, um psicopata genocida
fundamentalista cristão medíocre e desprezível que, inexplicavelmente, governou
o país por oito anos e o entregou na bancarrota a seu sucessor; Ronald Reagan, aquele
que nunca deveria ter nascido, ator medíocre que dedurou seus pares durante o
Macarthismo e que, no governo, iniciou, junto com Margareth Tatcher, da
Inglaterra, o processo de desregulamentação do mercado financeiro que resultou
na crise sem precedentes que assusta o mundo hoje em dia; e personagens
tragicomicamente bizarros, como Sarah Palin e seu abjeto “Tea Party”, um
verdadeiro partido de extrema direita neofascita alojado dentro do partido
republicano.
Lincoln já deve ter até cansado de se revirar no túmulo.
Muito bom
O Lado Bom da vida (2012),
de David O. Russell – Numa das críticas que li sobre o filme o autor do
texto avisava que não seria fácil assimilar a histeria descontrolada dos
personagens, todos perturbados, em maior ou menor grau, desta comédia romântica
aparentemente anticonvencional, mas que ao longo da projeção você seria
“fisgado” e passaria a simpatizar e a torcer por eles. Não aconteceu comigo.
Nem mesmo o talento e a beleza de Jennifer Lawrence, um dos principais motivos por
eu estar ali, me fizeram “entrar na trama”, que se arrasta de forma atabalhoada
e histriônica até um desfecho ridículo, totalmente previsível e açucarado.
Detestei. Perdi meu tempo e meu suado dinheiro.
Culpa dos irmãos Weinstein, mestres na arte de vender gato
por lebre.
Ruim.
Looper - Assassinos
do Futuro (2012), de Rian Johnson – Filmes sobre viagem no tempo são um
terreno fértil para a sanha dos críticos de plantão em apontar idiossincrasias
e furos no roteiro. Acho besteira, por um motivo simples: não se trata de
ficção “científica”, tecnicamente falando. Está mais para fantasia, pura e
simples. Especular sobre as possíveis conseqüências de tal premissa no mundo
real é tão inútil quanto apontar a impossibilidade da existência de sabres de
luz como os que são mostrados em “Guerra nas estrelas”. Melhor relaxar e
curtir, especialmente se o filme for tão bom quanto este “Looper”, uma espécie
de “12 Macacos” com pitadas de “Akira” e “Brilho Eterno de Uma Mente Sem
Lembrança”. Nele, Joseph Gordon-Levitt vive um executor da máfia encarregado de
dar cabo de vítimas despachadas do futuro, numa engenhosa artimanha para se
livrar das evidencias (leia-se corpos) num tempo em que as vítimas sequer existiam,
ainda. O crime perfeito por excelência.

O que ele não contava era que, numa
destas encomendas, fosse deparar com si próprio, envelhecido e encarnado na
pele de Bruce Willis. A partir daí somos arremessados num frenesi de ação praticamente
ininterrupta filmado de forma primorosa e com uma direção de arte estupenda que
usa na medida certa conceitos políticos e estéticos – o futuro é “cyberpunk” e
“retrô”, sem governo aparente e dominado pela máfia. Para fechar o pacote, os
efeitos especiais são ótimos e estão a serviço da história.
Uma das melhores ficções científicas dos últimos tempos.
Excelente.
As Vantagens de ser
invisível (2012), de Stephen Chbosky – Este filme começa como mais um
daqueles mornos retratos de uma parcela da juventude reprimida e rejeitada por
não se adequar aos padrões sociais, mas vai adquirindo consistência ao longo da
projeção e termina como um emocionante libelo contra a educação moral
castradora e a favor da liberdade e da aceitação das diferenças. Destaque para
a trilha sonora, com clássicos do rock independente dos anos 80 e 90,
especialmente The Smiths, Pavement, New Order, L7, Cocteau Twins e Sonic Youth
- que são colocadas ao lado da clássica "Heroes" (77), de David
Bowie, tratada como uma espécie de hino.
Muito bom.
O Impossível (2012),
de Juan Antonio Bayona – Fui praticamente coagido a assistir este melodrama
xaroposo ao ver as incríveis imagens do tsunami retratadas na obra num programa
de televisão. As críticas também eram, em geral, bastante favoráveis. Fui
enganado. Passados os 15, 20 minutos iniciais, que enfocam a tragédia
propriamente dita e são realmente impressionantes, todo o resto se arrasta em
um longo calvário que teria tudo para ser legitimamente dramático e
emocionante, não fossem os recursos clicherosos usados pelo diretor para
arrancar lágrimas dos expectadores. De mim, só arrancou exclamações de
desgosto. Não perca seu tempo, muito menos dinheiro. Logo logo estará sendo
exibido na sessão “Supercine”, da Rede Globo. Se sentirá em casa.
Destaque negativo para a trilha sonora, piegas ad infinitum.
Ruim.
O Hobbit (2012), de
Peter Jackson – Nunca fui fã dos livros de JRR Tolkien. Prefiro George RR
Martin e sua “guerra dos tronos”, muito mais profunda na construção dos personagens
e realista na condução da trama, sempre cheia de nuances e intrigas políticas.
Ele é, também, extremamente inteligente na utilização, a conta-gotas, dos
recursos narrativos que envolvem a magia e a fantasia pura e simpes, que em
Tolkien é a matéria prima em torno da qual toda a trama se define. Em Martin é
um tempero a mais que deixa a leitura mais saborosa, mas não define a essência
da obra. Por conta desse fator, nos livros de Tolkien tudo acaba se tornando mais
fácil: se os personagens estão em apuros, basta que o mago branco recorra a
seus poderes e águias voadoras gigantes surgirão em seu auxílio. Soa bobo,
infantil. “Sessão da tarde”.
Por outro lado, a direção de arte e os efeitos especiais deste
“O Hobbit” são realmente magistrais e merecem ser conferidos em tela grande, da
melhor maneira possível – em 3D e/ou em alguma sala que permita a visualização
neste novo formato no qual o filme foi rodado, a 48 quadros por segundo. Já o
argumento é fraco: mostra a saga de Bilbo Bolseiro, recrutado para ajudar um
grupo de anões a retomar seu reino, invadido por um dragão não se sabe por que
– aparentemente para ficar dormindo num castelo em cima de uma pilha de
tesouros. É uma espécie de “Dragão Tio Patinhas”. O que salva é o bom humor! O
filme parece não se levar tão a sério e realmente diverte em vários momentos,
com as trapalhadas do simpático porém desajeitado protagonista em meio ao grupo
de anões bárbaros casca-grossa. E tem, também, a sempre impressionante aparição
de Gollum – este sim, um personagem antológico.
Bom.
As Aventuras de Pi (2012),
de Ang Lee – Visualmente deslumbrante, apesar de conceitualmente rasa, esta
nova produção do eclético Ang Lee se baseia num livro assumida e
vergonhosamente plagiado de uma obra do gaúcho Moacyr Scliar. Nela, o
personagem principal, Pi (de Piscine) é jogado ao mar tendo como única
companhia uma zebra, uma hiena, um orangotango e um tigre de bengala. A luta
pela sobrevivência acaba deixando o protagonista a sós com Richard Parker, o
tigre – fruto de um impressionante trabalho de computação gráfica - e então
eles têm que aprender a conviver e sobreviver nas condições mais adversas
possíveis, sozinhos e à deriva no meio do oceano. Emoldurando tudo, belíssimas
imagens oníricas dos delírios de Pi em meio às maravilhas da natureza, reais ou
fantasiosas, como a ascenção de águas vivas fosforescentes na semi-escuridão da
noite estrelada e a ilha-viva na qual buscam abrigo. É outro que precisa ser
visto em tela grande, de preferência em 3D.
No final, o diretor quase põe tudo a perder com uma ridícula
explicação didática para as metáforas mostradas ao longo da projeção. Tratou os
expectadores como se fossem débeis mentais incapazes de ver além do que lhes é
oferecido de bandeja para acompanhar a pipoca e o refrigerante. Mas o pior é
que a maioria dos freqüentadores dos atuais multiplexes de shopping centers se
encaixam perfeitamente no estereótipo ...
Bom.
Cosmópolis (2012), de
David Cronenberg – Sempre fui fã de David Cronenberg, mas confesso que nem
sempre consegui captar sua mensagem por inteiro. “Gêmeos, uma mórbida
semelhança”, por exemplo, segue sendo, para mim, um enigma. Mas gosto muito do
filme. Não é o caso deste. Simplesmente ODIEI, do fundo do meu coração, esta
suposta alegoria do mundo dos milionários de Wall Street e sua vida cheia de
luxos e vazia de significados. Achei tão chato quem nem consegui assistir até o
fim! Sério, com cerca de uma hora e meia de projeção desisti. Fui embora. Não
entendi, nem fiquei com vontade de entender.
Não sei.
A Viagem (2012), de
Andy Wachowski, Lana Wachowski e Tom Tykwer – Finalmente os irmãos
Wachowski aparecem com uma obra digna da consagração que alcançaram com o
revolucionário “Matrix”, de 1999. “A Viagem” é uma ambiciosa “tour de force”
através do tempo que conta uma série de histórias paralelas entrelaçadas entre
si e amarradas por conceitos legítimos, apesar de questionáveis: a reencarnação
e a imortalidade da alma humana. O mais incrível é que cada trama se desenvolve
em um gênero diferente, do drama à comédia, passando por intrigas políticas,
distopias, questões ecológicas, ação e ficção científica. A maquiagem é perfeita
e permite que os mesmos atores interpretem personagens totalmente diferentes
entre si e de si mesmos, como pessoas. Já a montagem é primorosa, pois conduz o
roteiro num fluxo contínuo e ritmo perfeito, costurando a ação de modo a
conciliar os diversos níveis de tramas e subtramas, permitindo que todas
cheguem ao clímax e tenham um desfecho ao mesmo tempo, de forma absolutamente
sincronizada. É como se, numa orgia, todos os participantes conseguissem chegar
ao orgasmo ao mesmo tempo – eu sei, fui longe na analogia, mas o filme merece,
já que é totalmente superlativo.
Uma aula de narrativa.
Muito bom.
Ted (2012), de Seth
MacFarlane – Excelente comédia de humor negro que teve a sorte de contar,
no Brasil, com a publicidade gratuita gerada na mídia por um deputado idiota
saudoso dos tempos da censura. O imbecil levou o filho, menor de idade, para
assistir o filme, claramente desaconselhado para sua faixa etária, e saiu do
cinema alardeando que iria pedir oficialmente a proibição do mesmo, por suposto
“incentivo ao consumo de drogas” e coisas do tipo. Como era de se esperar, teve
o efeito contrário: não só o filme não foi proibido como sua atitude atraiu mais
público para a película.
John, vivido por Mark Wahlberg, é um adulto que não consegue
se desgarrar da amizade por seu ursinho de pelúcia de estimação,
miraculosamente animado a partir de um típico (e surreal) “milagre de natal”. A
premissa é realista: TED, o ursinho, vira uma celebridade, para logo em seguida
cair no ostracismo, quando as pessoas se acostumam com o fato de que há um
brinquedo vivo circulando pela cidade. Sua relação com John, no entanto,
prossegue, passando por todas as fases do crescimento, com direito a alguns
hábitos não muito recomendados pelo Ministério da Saúde e pelos moralistas de
plantão, como o consumo de drogas e o sexo irresponsável. Acontece que a
presença de TED acaba aprisionando seu já bem crescidinho amigo – ele tem 35
anos - numa armadilha que o impede de amadurecer e assumir responsabilidades,
fato que começa a atrapalhar seu relacionamento com Lori (Mila Kunis), a
namorada paciente e compreensiva – vale aqui destacar uma das grandes virtudes
do filma, a de não cair na misoginia tão comum em produções do gênero e
retratar a personagem feminina como uma chata castradora e dominadora.
A premissa é ótima e o desenvolvimento da trama é
satisfatório, apesar de esquemático, o que garante uma hora e quarenta e seis
minutos de diversão PARA ADULTOS! Não é uma produção da Disney! NÃO É para toda
a família.
Muito bom
Hotel Transilvania
(2012), de Genndy Tartakovsky – Fui assistir porque achei o treiler
divertido, além de gostar dos trabalhos que Gendy Tartakovsky fez para a televisão
– especialmente “Samurai Jack” e “As Guerras Clônicas” – mas me arrependi
amargamente. É um amontoado de clichês e piadas sem graça que conta a história
de um Hotel exclusivo para monstros criado pelo Conde Drácula. Lá ele, pai
superprotetor, praticamente aprisiona a filha adolescente que, sedenta por
aventuras, acaba se apaixonando por um garoto humano apalermado e ridículo que aparece
por lá por acaso.
Não veja. Não deixe seu filho ver. Prefira mostrar a ele a
versão original do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Ruim.
Histórias Cruzadas
(2011), de Tate Taylor – Comédia dramática que emociona sem deprimir ao
contar a história de uma aspirante a jornalista que resolve relatar num livro
as desventuras das empregadas negras de uma pequena cidade do Mississipi em
plena época da luta pelos direitos civis, em 1962. Para tanto ela precisa
superar, principalmente, o medo das protagonistas diante das represálias que
podem sofrer caso sejam identificadas por seus patrões e algozes – ou melhor,
por suas patroas. O enfoque, aqui, é quase que completamente feminino. Homens,
apenas em papéis secundários ou como coadjuvantes de luxo, caso do Reverendo
Martin Luther King, do presidente Kennedy e de Jesus Cristo.
Da necessidade mesquinha da instalação de banheiros segregados
fora da “casa grande” à vingança escatológica e sofisticada de uma “mucama”
injustamente demitida, acompanhar histórias como estas, que parecem mentirosas
de tão surreais em sua profunda injustiça, nos faz compreender a importância da
eleição de uma pessoa como Barack Obama ao cargo máximo da nação mais poderosa
do mundo.
Muito bom.
Killer Joe (2011), de
William Friedkin – Confesso que perdi o fio da meada e nunca mais tinha
ouvido falar em
Willian Friedkin, sensacional diretor que já poderia muito bem
estar aposentado e vivendo dos louros da glória por ter produzido clássicos
como Operação França I & II (numa época em que não era comum as
continuações serem tão boas quanto os originais) e “O Exorcista”.
Pois bem: ele não está. Aposentado. Dirigiu, recentemente,
uma interessantíssima película com cara de produção independente a la Tarantino que conta a
história de uma família disfuncional na qual o filho planeja a morte da mãe
para que seu espólio seja herdado pela irmã, bonitinha porém meio apalermada,
com a ajuda do pai e de sua madrasta sem noção. Não menos sem noção do que
todos os que se envolvem na trama, onde tudo dá errado – nisto lembra “Fargo”,
dos irmãos Cohen.
Tem pelo menos uma cena corajosa e antológica, a que envolve
Matthew McConaughey (excelente), Gina Gershon e um pedaço de frango. E um final
desconcertante – até para mim, que sempre gostei de finais “em aberto”.
Bom.
O Som do ruído
(2010), de Ola Simonsson e Johannes Stjärne Nilsson – Interessantíssima
alegoria do papel revolucionário da música - esteja ela onde estiver, seja na
harmonia de uma orquestra sinfônica ou na estridência de uma britadeira - em
nossas vidas. Na trama, um grupo de músicos anarquistas inferniza a vida de um
policial que, apesar de vir de uma família também de músicos, não tem o menor
ouvido musical. Eles, os “terroristas musicais”, criam perfomances nos lugares
mais inusitados, como uma UTI, na qual extraem notas dos aparelhos e dos
batimentos cardíacos do paciente. Criativo, instigante, surreal e divertido.
Destaque para a trilha sonora, como não poderia deixar de
ser.
Muito bom.
Rebelde com causa
(2009), de Miguel Arteta – Comédia romântica
um tanto quanto alucinada que conta
a história de Nick Twisp (Michael Cera), um adolescente tímido obcecado por sexo
que, para seduzir a bela Sheeni Saunders (Portia Doubleday), desenvolve uma
personalidade paralela destemida e sedutora chamada François. François faz de
Nick um procurado pela justiça e tudo começa a sair de controle.
Merece uma conferida.
Bom.
Uma Vida iluminada
(2005), de Liev Schreiber – Divertida e excêntrica comédia dramática que
conta a história de um “nerd” judeu colecionador de objetos pertencidos a
pessoas mortas que parte para a Ucrânia à procura de revelações sobre o passado
de seu avô, tendo como única pista uma foto e um nome escrito no verso da
mesma. Lá, cai nas mãos de uma empresa turística picareta tocada por Alex Jr., um
jovem ucraniano fã de Michael Jackson e de disco music (vivido por Eugene Hutz,
vocalista da banda Gogol Bordello - que assina algumas das canções do filme),
de seu avô rabugento que finge estar cego e da simpática Sammy Davis Jr. Jr., sua
cadela de estimação.
Do meio para o final fica excessivamente melodramático e
piegas, mas isto não faz com que o filme, como um todo, perca sua graça. A
questão é que, convenhamos, já estamos todos um tanto quanto cansados de ver
retratado nas telas o quanto os judeus sofreram durante a Segunda Guerra
Mundial. Sim, eles sofreram. Muito! Mas não foram os únicos. E, hoje em dia, é
impossível não comparar o que passaram com o que o governo de Israel faz com os
palestinos.
Bom.
Quadrophenia (1979),
de Franc Roddam - Filme baseado na ópera-rock homônima do The Who. É bem
menos pretensioso e melhor resolvido que a adaptação de Tommy – bizarrinha e
“ligeiramente” afetada, vamos combinar. Disponível em DVD, pode ser facilmente
encontrado a preço promocional – eu comprei o meu num supermercado perto de
casa.
Considerado um clássico da cinematografia britânica,
“Quadrophenia” retrata a vida de Jimmy, um “mod” e espécie de alter-ego de Pete
Towsend adolescente. Ele incorpora pra valer os ideais do “movimento”, o
“lifestile” – sempre em festas regadas a muita soul music da motown, em cima de
uma lambreta enfeitada e cheia de retrovisores (a curiosa opção estética surgiu
a partir da imposição da lei britânica, que exigia ao menos 1 retrovisor) ou às
turras com os “rockers”, a principal gang rival. Mas o tempo vai passando e
torna-se evidente a necessidade de se fazer concessões. Sucumbir, pelo menos em
parte, à realidade da vida. Jimmy vê seus amigos crescerem e, supostamente,
“amadurecerem”, se adaptando às exigências castradoras da convivência social.
Mas ele não quer crescer, não dessa maneira. O problema é que, ao que parece,
ele não sabe muito bem exatamente o que quer. Não pode, por motivos óbvios,
continuar sendo um arruaceiro narcisista vivendo a vida como se ela fosse
terminar no dia seguinte para sempre, mas também não quer acabar acomodado e
barrigudo como seus pais - o dilema típico de todo adolescente rebelde.
Conseguirá nosso herói escapar das garras do sistema opressor ? Descubra – ou
não – ao final da projeção, ao som da bela "Love, Reig O´er Me".
Grande roteiro, grandes atuações, excelente reconstituição
de época e a presença de um jovem Sting como o “mod modelo” que no final das
contas, quando o glamour da noite passa e é necessário se render à rotina do
dia a dia, se revela apenas um ...
BELL BOY !!!!
Clássico.
Psicose (1960), de
Alfred Hitchcock – Uma daquelas obras eternas que nunca envelhecem. Para
ser visto e revisto e eternamente apreciado e reverenciado. Uma obra-prima que
segue inspirando e influenciando até hoje. Influencia, inclusive, “A Grande
Família”, umas das melhores produções da televisão aberta brasileira, que
presta homenagem ao clássico na figura do personagem “Beiçola” e sua fixação
doentia pela mãe falecida.
O olhar de Anthony Perkins/Normam Bates, no final, ainda
assusta. E muito.
Clássico absoluto.
A Um Passo da
eternidade (1953), de Fred Zinnemann – Um daqueles que costumam freqüentar,
merecidamente, as listas de melhores filmes de todos os tempos. Retrata o
dia-a-dia de uma Base militar americana no Pacífico às vésperas do bombardeio
japonês a Pearl Harbour. Brilhantes interpretações de Montgomery Clift como o
boxeador traumatizado moralmente assediado por seus pares; de Burt Lancaster,
na pele de um oficial que vive um tórrido amor proibido que se consuma na
clássica cena do beijo na praia, lascivamente apaixonado e escandaloso – para a
época, evidentemente; e de Frank Sinatra, aqui o soldado Angelo Maggio, de
origem italiana e temperamento esquentado, que tem um forte atrito com o
sargento "Fatso", da prisão da base, e que, ao ser preso por
insubordinação, fica nas mãos de seu inimigo declarado
Clássico.